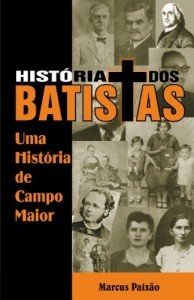Uma descrição do cemitério dos Heróis do Jenipapo - 1938.
Apresento aqui o relato de uma fonte histórica jamais historicizada pelos historiadores da Batalha do Jenipapo. No relato, que me limitarei a destacar apenas um pequeno trecho, há uma preocupação quanto ao abandono do cemitério do Batalhão. Sobretudo, o registro histórico nos ajuda a entender que o cemitério do batalhão já foi alterado, abusado, adulterado, acrescido, violado e desrespeitado, e ainda caberia aqui uma dúzia de adjetivos, sinônimos ou não, para realçarmos o absurdo que esse patrimônio histórico vem sofrendo.
Há quase um século, mais precisamente há 80 anos atrás (o registro é de 1938), esteve em Campo Maior, enviado do governo federal, Paulo Barreto. Ele esteve no Cemitério do Batalhão, e fez um breve relato do que viu. Além disso, ele fez fotografias - valiosíssimas por sinal - sobre o lugar. As imagens registradas por Barreto também nos ajudam a entender como era o cemitério dos heróis da guerra do Jenipapo.
Barreto fala que algumas cruzes estão espalhadas pelo chão, outras fincadas no local, e ainda alguns casebres que protegem outros túmulos. As cruzes são muito parecidas com as de hoje, mas, claro, não são as mesmas. Estão em sua grande parte em torno do velho obelisco e do cruzeiro, soerguidos em 1922. Também pode ser visto um túmulo com pedras, mas apenas um (se havia outros, as imagens não captaram). Os túmulos de pedra, iguais aos de hoje, foram mandados construir em 1922, pelo Major Lula, na época, Intendente (posto similar ao de um prefeito) de Campo Maior. Antes nada havia.
As fotos revelam que os casebres, pelo menos três, consistiam simplesmente num cerco de forquilhas cobertas com telha. Os casebres também são cercados com estacas, tudo bem rústico. no interior deles, túmulos. Provavelmente túmulos de pessoas que morreram muito depois da Batalha do Jenipapo, e os familiares os sepultaram ali por causa da mística que o lugar ganhou com a construção do obelisco em 1922, e do grande cruzeiro de madeira, símbolo dos cemitérios. Um dos casebres abriga, no topo do telhado, um grande cupinzeiro, que reina absoluto, surgindo como um terrível ornamento arquitetônico natural.
O obelisco e um cruzeiro também aparecem. O cruzeiro é novo, de madeira cerrada e bem trabalhada, parece estar polido, com as extremidades arredondadas. O obelisco já apresenta algum desgaste, e está especialmente enegrecido pela fumaça e fuligem. Era lugar onde velas eram acesas para os mortos. Assim como hoje, o descaso com o lugar está patente e um ralo matagal cobre boa parte da área. Não existiam árvores, como hoje se vê, ao longo do cemitério. O local era muito mais desértico e árido, muito mais campestre do que é hoje. Pode-se considerar até mesmo um lugar inóspito.
Hoje o cenário claramente apresenta um upgrade. Com exceção do obelisco, tudo está bem diferente. A sepulturas enchem o espaço do cemitério, o que é uma forma de valorizar o cenário para os visitantes. O acréscimo de sepulturas é devastador, a julgar pelas fotos de 1938. E mais interessante: boa parte das sepulturas marcadas só por cruzes estão bem próximas ao obelisco. Hoje o obelisco tem um círculo quase perfeito em seu entorno, que também envolve o cruzeiro, que não é mais o mesmo. Esse espaço vazio de hoje representa, sobretudo, o desrespeito e o ultraje com a memória, com a história e com a preservação.
No cenário em volta, ao fundo, vê-se toda a grandeza do campo do Batalhão, nome que foi dado àquela região por causa da Batalha do Jenipapo. Só campo, sem nenhum traço de concreto. Ao longo da vastidão, percebe-se as carnaubeiras de Campo Maior, símbolo natural da cidade, e, agora, também o símbolo do Piauí.
Para não deixar o leitor na mão, segue um pedacinho do registro de 1938, provavelmente um dos mais antigos que ainda existem em relação ao cemitério do Batalhão:
"As sepulturas são indicadas por várias cruzes de madeira; algumas delas estão protegidas com cercas ... toda essa área se encontra aberta, e em sua maioria as cruzes se acham deixadas no solo, caídas ... É de interesse conserva-se esse cemitério pelo seu valor histórico e pela sua expressão profundamente campestre".
O leitor vai precisar aguardar mais um pouco para ter o relato completo e para ver as imagens que foram registradas pelo autor do relato. Em breve serão publicadas na íntegra (em livro), inclusive com uma série de outros documentos.
Batalha do Jenipapo: quantas pessoas morreram naquela guerra?
Até hoje é incerto o número de mortos na Batalha do Jenipapo. O que não é duvidoso, de modo algum, é que centenas de pessoas caíram mortas naquele confronto entre as forças portuguesas comandadas por Fidié e as tropas brasileiras. Eu levantei um problema em relação ao Cemitério do Batalhão, lugar onde, supostamente, estão enterrados os brasileiros mortos naquela guerra. A verdade é que não sabemos se os mortos estão sepultados no simbólico Cemitério ou não. A força da tradição é que tem sustentado a própria tradição, perpetuada ha mais de 100 anos no conjunto de tradições e culturas do povo piauiense, em especial do campomaiorense. Mas isso eu tratarei brevemente no meu próximo livro, até lá o leitor terá que se contentar com alguns textos que eu já publiquei em portais e jornais.
A dúvida quanto aos lugar de sepultamento dos mortos não significa que haja dúvidas quento a realidade dos mortos. Uma questão não anula a outra de jeito nenhum. Mas, quanto aos mortos, especialmente ao número de mortos na Batalha do Jenipapo, temos um novo dilema não resolvido e muito mais difícil de ser resolvido do que o outro. Eu diria impossível de ser solucionado em absoluto e com toda precisão. Quantas pessoas morreram na Batalha do Jenipapo? Eu vou usar dois textos bem antigos para demonstrar ao leitor que há dificuldades praticamente intransponíveis nessa questão
Vieira da Silva
O primeiro a falar sobre essa questão foi Vieira da Silva, que disse, sucintamente:
“Calculou-se a perda das tropas brasileiras em mais de 200 homens, entre mortos e feridos, 542 prisioneiros (…) Da tropa portuguesa pereceram 16 soldados, 1 sargento, 1 alferes e 1 capitão. Saíram feridos 60 homens” (SILVA, p. 91).
A informação de Vieira da Silva advém das fontes estrangeiras e tem aspectos de oralidade envolvidos, sobretudo, nas dúvidas notadas no seu texto. Contudo, onde Fidié não se pronunciou, ele lançou alguma luz. Quanto aos mortos portugueses ele acrescenta informação: 19 mortos no total. Sobre o número de feridos ele é taxativo: 60. Vieira da Silva menciona que as tropas de Fidié contaram apenas sessenta homens feridos, um contraste fortíssimo com as narrativas brasileiras, que atestam um número maior.
Abdias Neves
Das narrativas piauienses, Abdias Neves registrou a primeira:
“Não se sabe, ao certo, o número de mortos que tiveram os portugueses, porque Fidié reuniu os cadáveres em cinco sepulturas e não as enumerou na parte da ação … Fidié, no entanto, tratou logo de enterrar seus mortos, acomodar os feridos e abandonar o campo de luta” (NEVES, p. 148).
Abdias Neves preferiu não ser taxativo à exatidão de números, mas seguiu as narrativas portuguesas. Ele demonstrou isso citando os números apresentados por Vieira da Silva, que, por sua vez, tomou por base suas informações a partir da narrativa de Fidié. Abdias colheu alguma informação oral, oriunda da tradição popular da Batalha, contudo, quanto aos números, não os contabilizou. Deve ter encontrado muitos desacordos nas informações.
Se não há um acordo dentre os pesquisadores mais antigos, nem mesmo em Vieira da Silva, que escreveu pouco tempo depois da Batalha do Jenipapo, que diremos mais tarde, quando comprovou-se a ausência de fontes documentais que tratam desse aspecto. Se existe alguma fonte fidedigna que revele isso, ele está perdida em algum lugar. Os autores que vem em seguida, apresentam números ainda mais desencontrados nos dois lados. Alguns sugerem números que ultrapassam os 1000 mortos, outros reduzem muito as baixas, especialmente no lado português.
O papel do historiador vai além de narrar os fatos
Um dos medievalistas que mais admiro é o historiador francês Jacques Le Goff. Para quem se dedica ao estudo da Idade Média, dentre os muitos acadêmicos de renome, o nome de Le Goff é indispensável. Talvez seja dele o maior e o mais importante legado historiográfico nessa área de estudos históricos. Boa parte da grande produção de Le Goff está traduzido para o nosso idioma, e como admirador do seu trabalho, adquiri alguns títulos. atualmente estou lendo um livro escrito em formato de entrevista biográfica: Uma Vida Para a História: conversações com Marc Heurgon (UNESP, 2007).
Le Goff destaca algumas observações importantes para o historiador sério. Obviamente, há diferenças colossais entre o professor de história e o historiador. Basicamente, o historiador produz pesquisas e o professor utiliza as pesquisas do historiador em sala de aula, no ensino dos seus alunos. Como pesquisador, destaquei uma colocação curta, mas muito importante de Jacques Le Goff. Ele lembra do seu professor no Liceu de Toulon, Henri Michel, que lhe ensinou um dos papéis fundamentais da história:
"Ensinou-me que a história, mais do que relatar, deveria explicar" (p. 37).
É papel do historiador explicar a história, e não somente narrar acontecimentos. O papel de narrar fatos cabe mais ao jornalismo, que não precisa se posicionar (para isso há o jornalismo opinativo). Porém, ao historiador cabe a tarefa de explicar os acontecimentos e porque aconteceram. O historiador deve ter a abilidade de entender mais profundamente as questões e os multiplos acontecimentos que culminaram em outros tantos.
Por isso, quando o historiador se depara com as fontes, ele precisa ter a perícia não apenas de ler o manuscrito antigo, mas de entender o manuscrito e o mundo em que sua fonte foi produzida. As tensões políticas e os interesses por trás pessoas que estão relacionadas ao documento que está sendo analisado. Não é uma tarefa tão simples. Conseguir a fonte é o primeiro passo da pesquisa, o que torna a pesquisa viável. As técnicas empregadas para a análise são outra parte importante do trabalho, porque o historiador não precisa apenas ler a fonte, ele precisa entender a fonte e julgar a autenticidade da fonte: se o que ela descreve é realmente o que aconteceu.
O material secundário que o historiador utiliza é a bibliografia, ou o que já foi produzido por outros historiadores sobre a temática que está sendo estudada. O que outras pesquisas dizem sobre o assunto? Dessa forma, as obras analisadas pelo historiador devem ser investigadas com a mesma cautela que as fontes primárias. A mesma fonte pode levar um determinado historiador chegar a conclusões diferentes de outro.
Somente depois de tomados todos estes cuidados (e outros!), o historiador poderá começar a dar a sua explicação da história. Dessa forma, ele pode começar a contar a história e não apenas narrar acontecimentos. A importância do historiador é primaz para a sociedade, qualquer que seja a sociedade, para que se conheça a própria história. falando de outra forma, toda sociedade precisa de bons historiadores, capazes de estudar seu passado e conhecer as implicações de suas decisões e entender como e porque chegaram onde chegaram.
A África foi um dos mais importantes centros de escravismo branco, mas não foi o único
Recentemente eu li um texto bem interessante que expunha sobre a escravidão branca que aconteceu no norte da África. O fato é historicamente inegável, mas pouco difundido. Nós fomos condicionados, especialmente por conta da recente escravidão de negros originários da África, que toda espécie de escravidão tem a cor negra, e assim, criou-se a ideia equivocada e preconceituosa, de que escravismo está diretamente ligado, e tão somente ligado, à opressão do branco contra o negro.
Esse fenômeno é maior ainda por um motivo: o recente tempo em que a escravidão negra aconteceu no ocidente, especialmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Não há fotografias ou imagens da escravidão branca que aconteceu no lado oriental do mundo, e nem no lado ocidental, pois essa etapa se deu anterior à escravidão negra. O que há do período da escravidão branca são pinturas e textos antigos, que inegavelmente retratam esse momento.
Esse tipo de narrativa explodiu com a infame manifestação da luta pelos direitos das minorias, no caso específico aqui, o direito dos negros. Grupos que apoiam esse tipo de movimento de reparação, em sua gênesi, tem origem, influência ou ligações com os ideais da luta de classe e as propostas difundidas mundialmente pelo marxismo. A lógica é a seguinte: como os negros foram oprimidos e escravizados por anos pelos brancos, não tendo condições sociais de competir com a classe branca devido aos anos de escravidão injusta, faz-se necessário, agora, uma reparação.
Essa reparação, claro, é concedida com a intromissão do governo, que deve legislar em favor da criação de leis que reparem esse erro do passado, concedendo cotas nas universidades para negros, concedendo territórios (propriedade privada) para os chamados quilombolas, concedendo indenizações e leis de proteção especiais para negros. Assim, o governo favorece uma parcela da sociedade enquanto desfavorece a maioria da população, o que é injusto.
Mas por outro lado, é notório que o inverso não é aceito e nem mesmo cogitado. O que se sabe quanto à escravidão, num contexto de âmbito mundial, é que ela sempre foi uma constante entre povos de todo o planeta. Não era o aspecto da cor da pele que definia quem seria o escravizado, pois é fato que tribos africanas escravizavam homens e mulheres brancas. Tribos africanas também escravizaram negros de outras tribos, e faziam dessas pessoas (negros) seus escravos.
Milhões de europeus brancos foram escravizados por negros, tanto da África, como de países orientais de predominância muçulmana, os mouros, como eram denominados. Brancos também fizeram de outros brancos seus escravos, assim como também escravizaram negros. Na antiga Roma, por exemplo, a população de escravos beirava 1 milhão de pessoas no primeiro século a.D. Esses escravos eram constituídos de povos das mais diversas etnias, mas a maioria eram de brancos e a minoria era formada por negros.
O mercado de Argel, na África, retrata o comércio de escravos brancos em pinturas. No melhor dos cenários, não menos do que 1,2 milhões de europeus foram escravizados num período mais recente que envolve um universo de 300 anos (1500 a 1800). Mulheres brancas eram escravizadas e levadas aos haréns de senhores negros. Haviam ataques marítimos de barcos africanos, comandados por senhores negros, contra embarcações da Europa. Era uma caçada de negros contra brancos, que acabavam sendo capturados e tornados seus escravos.
Negros foram senhores de escravos tanto quanto o foram homens brancos. Agora, como o mundo vai reparar o direito de milhões de brancos que foram escravizados no passado? Concedendo-lhes cotas? É preciso definir-se escravidão como um sistema cruel e brutal, mas que fazia parte de uma cosmovisão que dominava todos os povos da terra. Pessoas eram escravizadas. Pessoas, e não apenas negros ou brancos. Essa luta é muito mais ideológica atualmente do que humanitária. É a velha luta de classe revivida, a velha ideia do oprimido e do opressor. Do proletariado e do burguês. Luta de classe é um conceito marxista revolucionário que busca dividir o mundo em dois lados.
Questões conservadoras: histórico do Hino de Campo Maior
A história do hino de Campo Maior tem cerca de meio século. Foi nos idos da década de sessenta que ele surgiu, não como hino inicialmente, mas como uma música que foi cantada por algumas crianças numa escola de Campo Maior, enquanto se realizavam apresentações artísticas. Naquela época, crianças ainda eram ensinadas a respeitar os símbolos patrióticos, como a bandeira do Brasil. Um espírito conservador estava presente.
As professoras Valmira Napoleão e Maria Alves Pontes parodiaram uma música que ouviram num circo, que se apresentava em Campo Maior naquele período. Os circos, assim como acontece hoje, seguiam em caravana e apresentavam espetáculo em várias cidades. Esse circo fazia um tour pelo nordeste e estava naquele momento em Campo Maior. Durante o espetáculo uma música era cantada (Cidade Morena), e o nome da cidade de Campo Grande era substituía pelo nome de Campo Maior em dado momento na letra, numa forma de agradecer e de conquistar a público campomaiorense presente.
As duas professoras decidiram, numa apresentação escolar, apresentar a música, mas com alterações na letra original, incorporando temas relacionados a Campo Maior, como a Batalha do Jenipapo e temas da geografia e economia campomaiorense, além de destacar os aspectos da beleza inconfundível de Campo Maior. A apresentação foi um grande sucesso e a música foi muito bem recebida, sendo posteriormente cantada em outras escolas, que solicitaram a mesma apresentação. Onde as crianças se apresentavam, eram ovacionadas e a música começou a ser entronizada na identidade do campomaiorense, especialmente dos estudantes e das professoras, nesse primeiro momento. Campo Maior não tinha hino até então.
Comentava-se muito na cidade essa linda música que homenageava Campo Maior e retratava tão bem seus valores. Os primeiros anos se passaram, mas a música não foi esquecida. Nas apresentações do poder público municipal e da Polícia Militar, nenhum hino era entoado, pois não existia o "hino de Campo Maior", a única manifestação que existia era a música das duas professoras. O Capitão Geraldo de Sousa Câncio, na época o comandante da Polícia, começou a cantar a música em cerimônias militares e cívicas em que participava, pois a música cobria a ausência de um hino. O capitão começou a dizer que essa música deveria se tornar o hino de Campo Maior. Mais tarde, em cerimonias oficiais do município, a música começou a ser cantada, apenas de forma artística, pois era uma apologia à Campo Maior, seus heróis e sua terra. A esse tempo, onde quer que a música fosse ouvida, era cantada por muitos presentes. A música e a letra estavam gravadas na memória e as pessoas criaram forte laço de identidade com a canção. Mas, até aqui, Campo Maior permanecia sem um hino oficial.
Em 1983, com a música sendo cantada em todas as ocasiões próprias, celebrações e datas especiais, em escolas de toda a rede municipal de educação, a Câmara Municipal do município decidiu acatar o que já era comum e aceito por todos, e a música torna-se o hino oficial da cidade de Campo Maior, conforme a Lei Municipal Nº 004/83, de 23 de agosto de 1983.
O hino de Campo Maior não foi imposto de cima para baixo, como se a Câmara dos Vereadores, a revelia dos munícipes, tivesse ditado essa lei. O processo foi justamente o oposto disso: os campomaiorenses escolheram essa música e cantaram por pelo menos duas décadas (ou perto disso) essa música, antes que ela se tornasse, por vontade popular, o hino de Campo Maior. As professoras Valmira Napoleão e Maria Alves Pontes nunca tiveram a pretensão de tornar essa música o hino de Campo Maior, como vimos. Foi justamente essa força patriótica que a música carregava em sua letra que promoveu nos corações dos campomaiorenses esse sentimento de pertencimento e de identificação. O tempo tratou de forjar nos corações essa canção, que foi levada por vontade popular irresistível, até chegar a Câmara, onde a lei é criada e o prefeito, naquele momento, César Ribeiro Melo, sancionou a lei.
Hoje debate-se, na mesma Câmara, a remoção do hino de Campo Maior e a revogação da lei que o instituiu. As pessoas que estão promovendo a proposta esquecem dos malefícios que a exclusão de um símbolo cívico pode provocar numa cidade. Um hino é uma identidade, é como um nome pessoal. Quando alguém chama o nome de outro, a resposta imediata é olhar em direção à pessoa que chama, pois sua identidade foi provocada. Quando o hino de Campo Maior é cantado na cidade, os campomaiorenses se identificam imediatamente com ele. Quando miramos a nossa bandeira ou o nosso brasão municipal, nos identificamos também, mas os laços de identidade são ainda maiores com o hino, por se tratar de música e promover mais emoção. retirar o hino de Campo Maior significa não respeitar a identidade e os símbolos adotados pelo povo.
Para encerrar esse texto, acrescento que é perceptível os malefícios que uma educação não patriótica e o reducionismo dos símbolos patrióticos podem causar em uma sociedade. A falta de patriotismo, de zelo pelas tradições, e um espírito não conservador podem promover mudanças radicais e danosas a toda uma sociedade. A Câmara de Campo Maior terá que ter um espírito muito patriótico para enfrentar todos os desafios que lhe estão sendo impostos nesse tempo.
Um golpe no Hino de Campo Maior
Há cerca de cinco anos, uma polêmica em torno do hino de Campo Maior vem se avolumando na cidade. O hino é tido como um plágio por alguns cidadãos, que buscam derrubar, ou dar um golpe no hino municipal de Campo Maior, já que o termo "golpe" está na boca de muitos socialistas do nosso tempo.
A polêmica nunca foi aceita pela maioria dos cidadãos, que se portaram sempre contrários à toda tentativa de eliminar o hino, cantado a gerações. O plágio, segundo alegam os revolucionários, é que a letra do hino de Campo Maior é igual a do hino da cidade de Uruçuí, e de fato é, inclusive a melodia (música). São muitas as semelhanças na letra, e a melodia é idêntica, baseada numa homenagem que a dupla Tonico e Tinoco fez à cidade e Campo Grande. Embora a letra dos dois hinos não sejam idênticas, há muitas linhas iguais. Quem fez primeiro?
O hino de Campo Maior é muito querido, isso é um fato facilmente verificável na cidade. Mas a questão realmente é a acusação de plágio, e mais sério ainda, a anulação de um hino que vem sendo entoado por famílias há pelo menos duas gerações, ou três. Imagine se a classe política brasileira, a Câmara dos Deputados e o Senado decidissem mudar o hino nacional do Brasil, você aceitaria isso de bom grado? Você poderia imaginar se algumas pessoas começassem a sugerir que o hino do Brasil deve ser substituído porque ele é um plágio?
Se um plebiscito (consulta sobre questão específica, feita diretamente ao povo, geralmente por meio de votação do tipo sim ou não) fosse proposto no país perguntando se o hino do Brasil deve ser substituído, como o povo brasileiro se posicionaria? Sem dúvidas, poucos brasileiros iriam aceitar tal infâmia. Talvez os militantes marxistas e comunistas abraçassem a ideia, já que não o menor amor à pátria por parte deles, e nem respeito ao símbolos nacionais.
Para ser mais claro, caso o leitor não saiba, o hino brasileiro também é acusado de plágio. A revista VEJA publicou uma reportagem de Celso Masson, com o título: “Até tu, Francisco?” e com o subtítulo: "E essa agora: estudiosos sérios [sic] suspeitam de que o Hino Nacional é um caso de plágio". Isso mesmo, o hino nacional, o "Ouviram do Ipiranga..." pode ser um plágio. É capaz dos marxistas sairem às ruas, vestidos de vermelho e com as bandeiras da CUT, como sempre fazem, e pedir a queda do hino brasileiro também.
A reportagem de Veja traz o seguinte trecho: “Vários musicólogos brasileiros se debruçam, hoje em dia, sobre uma hipótese cada vez mais plausível: a de que o Hino Nacional, única faísca de brilho na fosca obra de Francisco Manuel da Silva, é, na verdade, cópia de um tema do padre José Maurício Nunes Garcia. A suspeita ganhou corpo em Juiz de Fora, em 1995. Durante o festival de música colonial da cidade, o mais importante do país na área do barroco, o maestro carioca Sérgio Dias executou, com orquestra e coro, um ofício religioso de autoria do padre José Maurício, Matinas de Nossa Senhora da Conceição. A platéia, composta em sua maioria de especialistas, ficou estarrecida. Havia um trecho incrivelmente semelhante ao Hino Nacional. De lá para cá, vários estudiosos começaram a estudar o assunto e os primeiros resultados estão saindo agora”.Mas espere um pouco leitor, tem mais! Não só o hino brasileiro é acusado de plágio, há dezenas de países cujos hinos são também acusados de serem cópias. Existe alguns países, inclusive, cuja a música é a mesma, pasmem! Alguns exemplos: Uruguai, Argentina, Bósnia, África do Sul, Liechtenstein, Estônia, Finlândia e Israel. Todos esses países tem seus hinos questionados. O estudo é de Alex Marshal, no livro Republic or Death! Além desses países, ha um número ainda maior de cidades brasileiras e estrangeiras que também são questionadas. Realmente são muitas, e não irei citar os casos, apenas desperto o leitor para esse fato.
Mais uma informação importante para juntarmos todos as peças do quebra cabeça, ou, da proposta de desconstruir nosso símbolo municipal, o hino de Campo Maior. Nas últimas semanas fomos informados que vários monumentos históricos estavam sendo ameaçados por propostas de movimentos socialistas, ligados às ideias chamadas de Marxismo Cultural, de serem removidos. O caso emblemático foi em Charlottevilles (EUA), onde grupos esquerdistas estavam tentando remover a estátua do general confederado Robert Lee. A estátua é um símbolo e um lugar de memória. É um monumento que lembra fatos históricos, sejam eles agradáveis ou não, corretos ou não, conforme o julgamento popular.
Retirar a estátua significa "apagar a história", acabar com um lugar de memória é o mesmo que rasgar livros de história. Imagine se surgisse a proposta de demolição do monumento aos Heróis do Jenipapo, em Campo Maior. As gerações seguintes começariam a esquecer essa história patriótica. Aliás, os monumentos existem justamente para nos fazer lembrar.
O que se passa em Campo Maior, ao meu ver, é algo semelhante e marcado com o mesmo padrão ideológico. Sejam os proponentes cientes ou não disso, eles seguem a cartilha do marxismo cultural à risca. Espero que a Câmara dos Vereadores não cometa a loucura de mudar o hino de Campo Maior por pressão de alguns poucos campomaiorenses (nem todos são campomaiorenses).
Eu nem vou falar em cidades que tiveram o nome plagiadom e Campo Maior também é um plágio de Portugal, portanto, logo logo esses mesmos ideólogos desejarão mudar o nome de Campo Maior. Até o nome das pessoas, que são iguais devem ser mudados, assim, toda cidade terá apenas um João, apenas um Fernando...
100 anos de protestantismo: a bandeira dos Batistas
Em 2010 publiquei meu primeiro livro HISTÓRIA DOS BATISTAS: UMA HISTÓRIA DE CAMPO MAIOR, onde apresento a fantástica saga dos Batistas em Campo Maior. Toda minha pesquisa está embasada em fontes históricas primárias, entrevistas, atas, documentos pessoais e em extensa bibliografia. Na ocasião, os Batistas contavam com 96 anos na cidade de Campo Maior. Agora já se passaram 100 anos!
Entre os anos de 2014 e 2015 os Batistas completam 100 anos de história na cidade de Campo Maior. Os primeiros passos aconteceram quando missionários norte-americanos, que já há alguns anos trabalhavam no sul do Piauí, pregando o evangelho na vila de Corrente (atual cidade de Corrente), em Jerumenha, Aroazes e outras povoações do Estado, se dirigiram com o intuito de expandir a obra missionária em direção ao norte do Estado, alcançando logo em seguida a capital, Teresina, e a tradicionalíssima cidade de Campo Maior.
Os fatos que envolvem a chegada dos Batistas em Campo Maior constituem-se um verdadeiro épico da fé cristã protestante. Entre os anos de 1912 e 1913, o conhecido sapateiro Joaquim Bostoque havia se dirigido para cidade de União em busca de novas oportunidades. Havia a possibilidade de ganhar dinheiro extra para a manutenção das despesas do seu lar. Por essa data Campo Maior ainda não contava com a pujança econômica que seria promovida pela cera de Carnaúba. O fenômeno do gado, por sua vez, que incrementou a economia local por séculos, começava a diminuir em ritmo acelerado. Mesmo continuando a ser uma cidade de importância indiscutível no cenário do Estado do Piauí, e ainda gozando na lembrança de muita gente a imagem de cidade rica, por conta da prosperidade gerada pelo gado em dias passados, Campo Maior não vivia mais seu melhor momento econômico na segunda década do século XX.
Diante de uma situação econômica difícil, Joaquim Bostoque seguiu em busca de dias melhores em União e permaneceu ali por um ano, talvez um pouco mais do que isso. Na ocasião de sua chegada, a cidade celebrava festejos católicos e havia grande movimentação de devotos. Pessoas de várias cidades frequentavam a festa. Aproveitando toda aquela movimentação, Joaquim decide ganhar dinheiro com seu talento de sapateiro e mestre no trabalho com couro. Era uma oportunidade de lucro rápido. Por volta de 1914 ou 1915, quando Joaquim Bostoque retornou para Campo Maior, ele já defendia a bandeira dos Batistas. Considerava-se a si mesmo um crente Batista, como lembra sua neta Iracema dos Santos. Segundo ela, em União, “o vovô foi alcançado pelo poder do evangelho de Jesus Cristo”.
A conversão e o discipulado de Joaquim Bostoque confundem-se em dois aspectos. Primeiro constatamos que ele teve contato com O Jornal Batista, periódico que os Batistas haviam lançado em 1901, no Rio de Janeiro, e que circulava na bagagem dos missionários por todo o Brasil. À medida que os missionários americanos encontravam alguém letrado, enquanto lhe ensinavam sobre as verdades da Bíblia, O Jornal Batista poderia ser utilizado como um instrumento de auxílio no ensino das doutrinas que o grupo defendia. É claro que nem todo mundo tinha acesso ao Jornal Batista, pois o grau de alfabetização ainda era muito reduzido. Mas um homem tão ávido pela cultura e pelo saber, não dispensaria a oportunidade de ler e aprender aquele jornal, principalmente sabendo que se tratava de algo tão importante para a sua vida.
Apesar de ser sapateiro, profissão pouco valorizada naquele período, Joaquim Bostoque era um homem letrado e culto, bastante instruído, versado sobre os mais diversos assuntos, algo difícil de se esperar de um sapateiro pobre naqueles dias. Shirley Ibiapina, neta de Joaquim, lembra que sua mãe sempre lhe contava: “O papai falava sobre todos os assuntos, e sabia falar. Ele era uma pessoa cheia de sabedoria e admirada na cidade”. O ir. Turuka, figura intelectual de Campo Maior, relembrando a vida de Joaquim Bostoque, afirmou: “este é o primeiro homem realmente evangelizado que conheci”. Joaquim, apesar de sapateiro, foi notoriamente reconhecido pelas personalidades mais ricas e instruídas de Campo Maior. Seu nome está presente na ata de lançamento da “pedra fundamental” da casa do Conselho Municipal de Campo Maior, em 1896. Em um convite promovido pela elite campo-maiorense e por personalidades reconhecidas pelo seu saber, encontramos o nome do sapateiro Joaquim Bostoque no meio de tantas figuras ilustres. Também é importante frisar que Joaquim Bostoque foi o fundador do Centro Operário de Campo Maior e seu primeiro presidente.
O período em que Joaquim estava em União, a trabalho, foi o mesmo período em que os missionários Batistas e alguns brasileiros já convertidos desciam do sul do Piauí para a evangelização da região Norte. Foi nesse ponto da história que aconteceu o encontro de Joaquim e os missionários Batistas. É muito provável que Joaquim tenha conhecido o pastor americano Adolpf J. Terry e sua esposa Luly Terry na cidade de União ou proximidades. Com eles estava o piauiense Teófilo Dantas, e sua irmã, convertidos no sul do Estado. Foi nessa ocasião que Joaquim teve acesso ao Jornal Batista e ouviu as primeiras mensagens sobre o evangelho, que transformariam sua vida para sempre.
Em Campo Maior, em 1915, os Batistas já contavam com uma família inteira que incansavelmente ensinava a Bíblia a seus vizinhos e amigos. Esta foi verdadeiramente a PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CAMPO MAIOR e a primeira igreja evangélica/protestante da cidade. Joaquim Bostoque foi o primeiro protestante de Campo Maior. Periodicamente cultos passaram a ser realizados na residência do sapateiro, tudo muito restrito à família e a algumas poucas pessoas que aceitavam os convites. A chegada dos Batistas também foi marcada por intensa perseguição religiosa, a maior parte promovida pelo padre Clarindo Lopes Ribeiro nos anos de 1918 e 1919. Sobre esse episódio, esclareço em detalhes em meu livro. Ainda na mesma década a presença dos missionários americanos foi constatada em cultos na residência de Joaquim, que na época era localizada nas proximidades do atual Mercado Público Central de Campo Maior.
Na década de 1940, com Joaquim Bostoque já falecido, sua filha Heroína Ibiapina assume o papel de liderança entre os Batistas de Campo Maior. Até o momento não havia templo para reunião do pequeno grupo, tudo acontecia nas residências ou em praças públicas. Uma nova leva de missionários americanos, residentes em Teresina, passou a fortalecer o trabalho na cidade de Campo Maior e um novo foco de perseguição se levantou, dessa vez promovida pelo padre Mateus Cortez Rufino, mas que logo foi abafada, tornando-se o padre, em seguida, um dos melhores amigos do pastor Moreira, o primeiro pastor Batista de Campo Maior. A pedido de Heroína Ibiapina, a Primeira Igreja Batista de Teresina passou a enviar um grupo de irmãos para pregar e dirigir os trabalhos em Campo Maior. Pregaram na cidade Lourival Parente, Merval Rosa e muitos outros nomes que mais tarde ganharam grande notoriedade no cenário piauiense. Em 1951, depois de já ter enfrentado quase 40 anos de dificuldades, foi fundada oficialmente a PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CAMPO MAIOR, que até hoje dá testemunho de Jesus Cristo na cidade. Portanto, os Batistas completaram 100 anos em Campo Maior, data que será celebrada em janeiro de 2015, em culto a Deus a ser realizado na PRIMEIRA IGREJA BATISTA REFORMADA EM CAMPO MAIOR.
1905 - Enchentes de proporções diluvianas
“O rio [Surubim] que banha a cidade extravasou e transpondo o dique mandado construir no sangradouro da lagoa que lhe fica próximo, juntou suas águas às dela, indo-se depois reunir ao [riacho] Pintadas ...”
Essas foram as notícias sobre o alagamento ocorrido em Campo Maior no início do século XX. Essa referência da grande enchente de 1905 aparece na Gazeta do Prof. B. Lemos, em uma nota que foi enviada pelo campomaiorense Moisés Eulálio e publicada posteriormente no livro de Reginaldo Lima, Geração Campo Maior: anotações para uma enciclopédia, (1996).
Na enchente de 1905, o texto de Moisés Eulálio descreve como a cidade de Campo Maior ficou parcialmente alagada, principalmente as zonas Norte e Nordeste da cidade, que compreendem atualmente as imediações do bairro Califórnia (zona Norte), e boa parte da cidade situada às imediações da BR 343, ladeada pela avenida Heróis do Jenipapo, com mais de uma dezena de vielas e travessas submersas (zona Nordeste). As águas também atingiram a margem oeste do rio Surubim, onde hoje temos o bairro de Flores (zona Noroeste). Uma informação chama atenção: as águas do rio Surubim se juntaram à lagoa próxima e ao riacho Pintadas. A região tornou-se um grande mar d’água.
- A imagem mostra o rio Surubim (2017) com suas águas passando livremente por sobre as duas paredes de contenção, cobrindo árvores e dominando o cenário
O texto fala de uma “lagoa” próxima ao rio Surubim, o que parece descartar a ideia de que essa lagoa seja uma referência ao açude grande da cidade. Nessa enchente, o açude grande não é mencionado na nota da gazeta do prof. Lemos, mas ele transbordou em alguns pontos, onde as paredes estavam avariadas ou eram mais baixas. Suas paredes, com muito sacrifício devem ter contido o grosso das águas, pois uma aguada tão importante quanto o açude não deixaria de ser mencionada, caso suas águas tivessem invadido parte da cidade, ao menos, é claro, se ele ainda fosse tido por alguns como “lagoa”. Hoje, especialmente os mais velhos, ainda preferem chamar o velho açude de “lagoa”, talvez devido a um resquício linguístico que sobreviveu no imaginário de alguns. Se a referência é ao açude grande, o cenário da época foi devastador.
A lagoa citada por B. Lemos muito provavelmente é a lagoa da fazenda São Joaquim, situada cerca de 100 metros do rio Surubim. Contudo, pode ser também uma referência ao açude de Campo Maior, visto que o texto fala do dique e do sangradouro da lagoa que havia sido construído. A lagoa do São Joaquim não possui dique e nem sangradouro. É uma lagoa natural, posteriormente reforçada pelo proprietário do terreno. Outra observação: o açude grande de Campo Maior à época tinha sua área alagada muito maior do que a atual, que foi delimitada com a construção da Alameda Dirceu Arcoverde. Havia também um riacho sempre cheio no inverno, que deságuava no surubim, mas que também se ligava às águas do açude grande. Até hoje pode-se constatar as manilhas que foram postas na construção da atual avenida Santo Antônio, para dar vasão a água.
Se a lagoa, ao qual se refere o texto é mesmo o açude grande, suas águas devem ter encontrado o riacho Canudos, no ponto onde hoje está a BR 343, na época, a área mais baixa em volta do açude. Se a água do Canudos invadiu o açude de Campo Maior, tivemos uma inundação de proporções diluvianas na cidade. O centro histórico, ou, “cidade velha” ficou literalmente ilhado, com um mar d’água à sua volta. Grande parte da região do bairro Estação ficou alagada. O cenário, assim como seria mais tarde em 1924, foi assombroso e arrasador.
Documentos de meados de 1800 comprovam que as águas sempre causaram transtornos em Campo Maior. O Conselho Municipal (equivalente à prefeitura e câmara dos Vereadores) sempre alugava, numa espécie de pregão anual, a passagem dos rios. Em outras palavras, em bons invernos era quase impossível entrar ou sair de Campo Maior a pé. Os arrendatários das passagens atravessavam as pessoas em pequenos barcos, que cruzavam os rios Jenipapo, Longá e Surubim. Esse problema existiu devido a localização espacial de Campo Maior, que se desenvolveu entre rios e lagoas, numa região muito fértil para o gado, especialmente por ser uma região de grandes campos e pela fartura de água. Um grande atrativo para o português, que se estabeleceu aqui para criar gado.
Um século de reformas no açude grande de Campo Maior
Por volta de um século atrás, um engenheiro belga denominado Dr. Horta, recebeu ordens para concertar as paredes do açude grande de Campo Maior, que apresentava vazamento em alguns pontos. O açude é descrito como o nome de ‘açude de Campo Maior’. Esse deve ser o nome ao qual ele era já bem conhecido, o que desfaz a ideia de que ele fosse conhecido como ‘açude de Santo Antônio’, uma tentativa de catolicizar toda a cidade ao padroeiro da fé católica dos professos campo-maiorenses. O açude também é classificado na documentação como pequeno. Quando o DNOCS veio realizar essas obras no açude, há 70 anos ele já existia, e já havia passado por outro reparo, em 1889. A construção foi, na verdade, mais um conjunto de reformas, pois o Dr. Horta “veio e fez concertos no paredão” do açude.
- As últimas reformas realizadas no açude grande tiveram início em 2015 e ainda não foram concluídas.
Quando o Dr. Horta chegou para reparar os danos no paredão do açude, ele utilizou-se de uma técnica bem peculiar. O paredão contava com algumas rachaduras que provocavam um vazamento considerável. Havia ainda outros pequenos vazamentos, de menor risco. O engenheiro aprontou uma mistura de massa, digamos, bem diferente. Ele preparou traços de argila misturada com estrume de animais. Essa massa foi utilizada para tapar as rachaduras, e à mistura, foram acrescentadas pedras pequenas.
Parece que todos os trabalhos que vinham sendo realizados no açude estavam surtindo bons resultados. Um dos objetivos da construção do açude era conter as águas, evitando que em invernos mais fortes elas não invadissem a cidade, que vinha crescendo rápido, principalmente nas últimas décadas do século XIX. Na realidade, em termos urbanos e estruturais, esse foi um dos períodos mais importantes no desenvolvimento urbano da novel cidade de Campo Maior. Apenas 30 anos Campo Maior fora elevada ao patamar de cidade.
- O açude grande de Campo Maior é considerado o cenário urbano de maior beleza em Campo Maior e o mais impactante
Em 1905 o açude foi posto à prova. Tivemos um rigoroso inverno nesse ano, o que causou grande enchente. Todos os rios da cidade transbordaram e cidade ficou literalmente ilhada. Era necessário, para entrar ou sair da cidade, o uso de embarcações pequenas. Nesse ano o açude transbordou e surgiram algumas avarias. Em 1924 tivemos outra grande cheia. Desta vez os reparos do Dr. Horta seriam testados. Apenas quatro anos depois que o belga tinha realizados reparos delicados nos paredões do açude grande, a cidade era acometida de um implacável inverno. Tão grande foi a cheia daquele ano que “para fazer compras, o Cel. José Paulino vinha dos Porções, atracando a canoa na calçada de D. Penha, no início da Rua Padre Manoel Félix.”
Dessa forma, a construção do açude grande por Jacob Manoel d’Almendra (1859); as reformas promovidas por Antônio José Nunes Bonna e outras menores que seguiram o ano de 1889, e todas as outras que foram realizadas desde que o Dr. Horta, em 1920, concertou os seus paredões, tem sido de extrema importância para a preservação de importantes áreas urbanas de Campo Maior em nossos dias.
Campo Maior: aspectos econômicos, urbanísticos, e a construção do açude grande
Sobre o esplendoroso açude grande de Campo Maior, monumento natural que encanta os turistas que cruzam seu caminho. Sua obra foi realizada no ano de 1859. Campo Maior nesse período não havia mudado muito em termos de estrutura urbana. Continuava uma vila pacata, no estilo colonial. Embora fosse muito pequena, era considerada grande e próspera quando equiparada a outras vilas do seu tempo.
- O açude grande de Campo Maior: desde de 1859, mas com toda a sua potencialidade sub aproveitada.
- Foto: Juscel Reis
Esse aspecto de potência econômica vinha desde os primeiros tempos da vila. Os repasses de Campo Maior à coroa portuguesa eram os maiores do Piauí. Em 1791, Campo Maior enviou mais dizimas de gado do que a Capital, Oeiras. Enviou duas vezes mais do que Jerumenha e Parnaguá juntas. Na região norte, também predominou economicamente, e enviou mais arrecadação do que Valença e Marvão. Em 1809-1814 a liderança econômica permanecia e aumentara. No Norte, enviou 4 vezes mais do que Parnaíba, 4 vezes mais do Piracuruca, 3 vezes mais do que Marvão e o dobro de Valença. No Sul, perdeu por muito pouco para Oeiras, com 91:850$000, contra 84:090$000 de Campo Maior. Porém enviou 3 vezes mais do que Jerumenha e Paranaguá.
Quanto ao perímetro da vila, o parque urbano de Campo Maior em 1850 ainda girava em torno da igreja, seu centro histórico mais antigo. Hoje podemos até considerar aquelas imediações como a “cidade velha”. Era no entorno da igreja e um pouco mais afastado dela que se encontravam as moradias. O que estava mais distante da “cidade velha” eram as fazendas, inúmeras, que se espalhavam dentro e além do que hoje é a zona urbana de Campo Maior. É claro que o número de moradias e instalações, e também de fazendas, foi aumentando a cada ano desde os tempos da Freguesia de Santo Antônio do Surubim. Mas ainda não devemos imaginar uma povoação cheia de casas e ruas. Tudo era muito pouco e pequeno. Note que havia passado apenas 36 anos da Batalha do Jenipapo.
O foco vivo e comercial da vila era o entorno da igreja. A área em torno do açude era limite de muitas fazendas. Aquela região no passado nunca foi grandemente habitada, pois era considerada fora dos limites da vila. Mas ela nunca foi deserta. Visto que a lagoa era uma das fontes de água da cidade, a melhor fonte que se tinha, ela sempre foi frequentada. Muitos fazendeiros já se ocupavam das imediações da lagoa, utilizando seu espaço para fazer vazantes e para o descanso de animais, principalmente o gado vacum.
- Imagem ilustrativa que apresenta o açude grande e sua orla reconstruída. O projeto está em andamento
Pelos idos de 1850, já era aquela aguada muito mais notada, já tendo a população observado a sua indispensável presença. Outro fato interessante que podemos notar ao longo da história da cidade é a constante preocupação, marcada pelo discurso político, com a pureza de suas águas. O açude sempre foi tema político! Sendo assim, o anseio do povo por uma fonte que pudesse reter água em dias de seca e proteger a cidade em dias de enchentes era grande. A cada avanço da vila, maior era a necessidade de segurança. Um açude era a solução para conter esse dilema que o povo vivia. Em ano de pesada estiagem o povo sofria, pois as fontes secavam, o rio Surubim baixava, os riachos desapareciam e a lagoa tinha o nível d'água drasticamente diminuído. Cada vez mais se mostrava necessário resolver esse problema.
Em 1857 um novo presidente da Província é empossado. Seu mandato tem início em 10 de junho. Trata-se aqui do Dr. João José de Oliveira Junqueira. Permaneceria no cargo até o dia 30 de dezembro de 1858 . Nos últimos dias de seu governo, faltando uma semana para deixar a presidência da Província, a obra da construção do açude é arrematada pelo então Cel. Jacob Manoel d’Almendra. Certamente essa foi uma arrematação "política", pois o Jacob de Almendra era, provavelmente, o homem mais rico do Piauí e gozava de enorme influencia política.
Por ter adquirido muita influência, Jacob de Almendra tinha transito privilegiado no cenário político do Piauí. Quando a cidade de Teresina passou a ser a capital do Piauí, Jacob Manoel d’Almendra foi um dos que apoiaram o então Presidente da província Antônio Saraiva. Monsenhor Chaves aponta seu nome como um dos principais colaboradores na transição da capital para Teresina. Seu nome está na lista dos 20 deputados que apoiaram a mudança da capital, com uma nota do padre: “guardemos estes nomes para a história”. Jacob Manoel d’Almendra foi um dos homens que subscreveu o projeto que transferiu a capital de Oeiras para Teresina.
- Diferente das reformas do século XIX, realizadas por escravos, nos dois últimos anos o açude de Campo Maior foi esvaziado para reformas e retirada de dejetos com máquinas pesadas.
O cenário para a construção do açude estava preparado. A verba estava reservada, custando, segundo relata Marion Saraiva, 3:500$000, “pagos depois que a obra tivesse resistido a um inverno” . A lagoa, tão útil no passado, deu lugar ao Açude Grande de Campo Maior, uma das maiores obras realizadas naquele período.